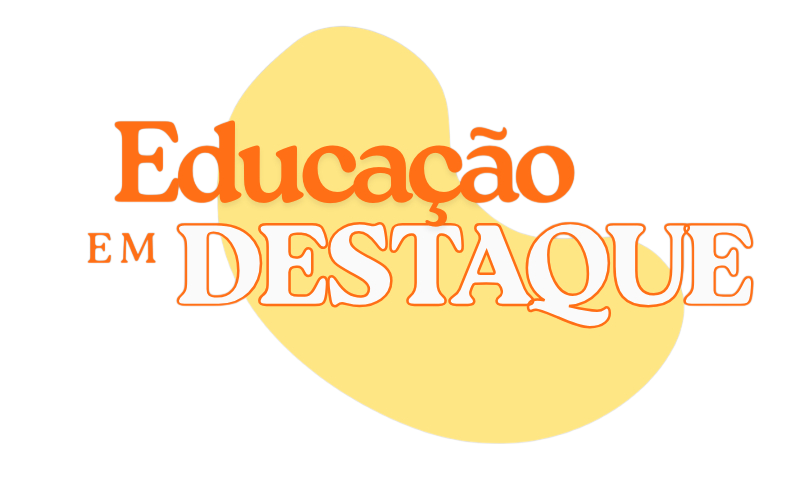📜 A Escritura e o Mito da Universalidade
I. Introdução
📝Poucos livros exerceram tanta influência cultural e política quanto a Escritura. Aclamada como “a palavra universal de Deus”, orientou impérios, inspirou reformas e moldou sistemas jurídicos inteiros. Contudo, essa pretensão de universalidade não resiste a um exame empírico: o texto ignora a vasta maioria dos povos da Terra. Povos asiáticos, africanos, indígenas americanos e da Oceania aparecem como sombras exóticas em suas páginas.
🔎Essa lacuna não é um pormenor: é evidência. Indica que a Escritura não é um manual divino dirigido a toda a humanidade, mas sim um documento histórico local — redigido por uma comunidade específica, em um tempo determinado, para dar resposta a problemas concretos. O que se seguiu foi a transformação de um livro étnico em dogma global.
II. O Documento Local e Suas Fronteiras Históricas
📚A Escritura nasceu de processos humanos, não de desígnios cósmicos. Composta em hebraico, aramaico e grego, entre cerca de 1200 a.C. e 100 d.C., ela espelha disputas internas do antigo Oriente Próximo e do Mediterrâneo romano. Sua canonização — a seleção dos textos “inspirados” — foi uma deliberação institucional, não um ato celestial.
⚖️Os concílios que definiram o que seria ou não “Palavra de Deus” funcionaram como verdadeiros tribunais de edição sagrada. E, como todo tribunal, eram formados por homens com convicções, interesses e alianças. Nada, portanto, de espontâneo ou universal.
🗺️Analisada como documento histórico, a Escritura revela-se um arquivo etnocêntrico, centrado em genealogias, leis e conflitos de um pequeno grupo semita e, depois, de comunidades cristãs greco-romanas. A maioria das culturas humanas não apenas não participou da redação — sequer estava no horizonte mental de seus autores.
III. A Pretensão Filosófica de Universalidade
💭A ideia de “universalidade” da Escritura é uma construção filosófico-teológica posterior. O problema não é reconhecer o texto como experiência espiritual; é confundir alcance simbólico com soberania ontológica.
📜Um escrito pode conter arquétipos humanos — culpa, redenção, morte, justiça — e ainda assim permanecer localizado. O mito de Édipo, o Bhagavad Gita, o Popol Vuh e o Tao Te Ching tratam das mesmas questões sem jamais reivindicar exclusividade divina sobre o planeta.
⚔️A universalização da Escritura não decorre de mérito metafísico, mas de poder histórico. Foi a Europa cristã — não o Céu — que decidiu colocar um livro hebraico e outro grego no centro moral do mundo.
IV. A Dimensão Psicológica e Arquetípica
🧠Do ponto de vista da psicologia profunda, a Escritura atua como espelho de arquétipos psíquicos. Jung identificou em suas narrativas o Herói (Moisés, Davi, Jesus), o Sábio Ancião (Salomão), a Grande Mãe (Maria), a Sombra (Satanás).
🌍Essas figuras ressoam não porque sejam divinas em si, mas porque encarnam estruturas psíquicas universais — presentes também em mitos africanos, asiáticos e ameríndios. A força simbólica da Escritura é real, porém torna-a universal em impacto psicológico, não em origem ou autoridade.
V. A Universalização Administrada: O Papel das Instituições
🏛️Se a Escritura se tornou “universal”, foi porque instituições poderosas assim o decretaram. A Igreja — especialmente a partir de Constantino — desenhou um aparato administrativo para transformar diversidade espiritual em uniformidade burocrática.
🗓️Liturgias, catecismos, calendários e traduções padronizadas atuaram como mecanismos de homogeneização. A fé local converteu-se em norma global; o mito de um clã semita passou a ser proclamado lei para continentes inteiros.
VI. A Dimensão Política e Colonial
⛵Durante a expansão colonial europeia, a Escritura viajou nos navios. Tornou-se instrumento de dominação cultural e política — a alegada “missão civilizatória” em nome de Deus. Povos foram convertidos, línguas suprimidas, tradições apagadas.
🛡️O discurso missionário substituiu a ideia de “povo eleito” por “mundo a ser salvo” — e assim universalizou o exclusivismo. Foi por meio dessa conquista que o texto local ganhou sua capa “universal”: não por inclusão, mas por imposição.
VII. A Dimensão Jurídica e Ética
⚖️Em sociedades democráticas e laicas, a Escritura é legítima como referência pessoal, não como norma pública. O Estado não tem fé oficial; o cidadão tem liberdade de crença.
📜Impor preceitos dessa Escritura como lei é inconstitucional e viola a liberdade religiosa assegurada por instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e convenções sobre direitos dos povos.
VIII. A Dimensão Criminal e a Responsabilidade Histórica
⚠️Existem episódios documentados em que a imposição da Escritura resultou em crimes culturais e humanitários: internatos religiosos que separaram crianças indígenas de suas famílias; destruição de bens sagrados; conversões forçadas; torturas em nome da fé.
🧾Esses atos, vistos hoje à luz do Direito Internacional, configuram violações coletivas — e, em certos casos, genocídio cultural. A Escritura, como texto, não é criminosa; mas sua instrumentalização institucional pode ser.
IX. Conclusão
🔚A Escritura é uma obra monumental, rica em sabedoria simbólica, literária e espiritual. Mas é também produto de sua geografia e de sua política. Tratar-a como “manual universal” é apagar a diversidade humana — e transformar um documento histórico em ferramenta de uniformização ideológica.
✨A fé pode ter alcance universal. A Escritura, não. Reconhecer esse limite é, paradoxalmente, um gesto espiritual: aceitar que o divino fala em muitas línguas.